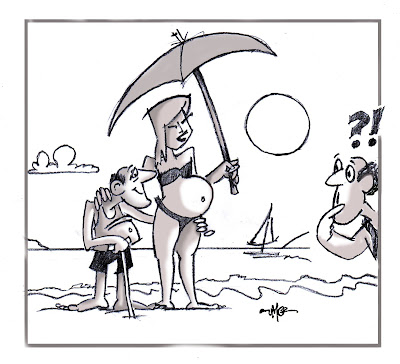Dia desses ela me ligou com a voz de quem estava prestes a chorar:
– Meu filho, você viu?
– O quê, mãe?
– Ele morreu... E agora, o que vai ser de Glória?
Lamentava a morte do ator Tarcísio Meira, aos 85 anos, vítima da Covid-19. Sua mulher, a atriz Glória Menezes, também fora internada com a doença, mas teve sintomas leves. O casal já havia sido vacinado, porém a situação do marido agravou-se porque, além de cardiopata, sofria de enfisema e insuficiência renal.
Minha mãe é daquelas que não conseguem separar a realidade da ficção quando se trata de telenovelas. Se fosse possível, de máscara e devidamente lambuzada de álcool em gel, levaria pessoalmente seu abraço à família enlutada.
Lembrei-me dela no bairro da Gruta, em Maceió, há 45 anos, assistindo ao último capítulo da novela Pecado Capital, da TV Globo. O taxista Carlão (Francisco Cuoco) tentava livrar-se de uma mala de dinheiro – deixada em seu carro, havia meses, por assaltantes em fuga – nas obras do metrô para, em seguida, fazer uma denúncia anônima à polícia. Não deu tempo: foi morto a tiros por um sujeito chamado Tonho Alicate, que rapidamente fugiu do local. Minha mãe não se conteve:
– Pega esse cachorro miserável!
Já vinha indignada porque a suburbana Lucinha (Beth Faria), o grande amor da vida de Carlão, o trocara pelo milionário Salviano (Lima Duarte). O taxista “herdara” por acaso o butim largado em seu carro e resolveu investir numa frota o que antes cogitou devolver à polícia. Pretendia enriquecer e reconquistar a sua amada. E minha mãe virou profetisa:
– Carlão vai acabar se lascando. Essa moça é interesseira, oportunista... Quer é o dinheiro desse velho feio! – referindo-se a Salviano.
Em Pernambuco, 20 anos depois, quando visitava a Usina Pumaty, conheci um de seus principais acionistas, que agia bem parecido com minha mãe. Olhava com insistência para o relógio, enquanto explicava o processo de destilação de álcool, até revelar que tinha pressa. Todo dia, pontualmente às cinco da tarde, voltava para a casa para tomar banho, jantar e ver novelas.
Ele havia assistido Ídolos de Pano (1975), exibida pela TV Tupi, onde o vilão Jean (Dennis Carvalho) queria afastar o mocinho, seu próprio irmão Luciano (Tony Ramos), da linha sucessória familiar. Os dois eram os únicos herdeiros de uma rica empresária muito doente.
Dois anos depois a TV Globo exibiria Locomotivas, onde Netinho (o mesmo Dennis Carvalho), sufocado por Margarida (Mirian Pires), sua devotada e humilde mãe, tratava-a muito mal. O usineiro não aguenta e desabafa:
– Esse rapaz nunca me enganou. Não vale nada!
– Isso é novela! – diz alguém.
– Sei não... Ninguém faz um papel desses com a própria mãe se não for um cabra safado!
O poeta Carlos Drummond de Andrade, bem no começo dos anos 70, também revelava grande interesse nos folhetins eletrônicos, mas por outro motivo. Era a época da famosa "gripe" de O Pasquim, ironia com que se justificava a ausência de vários jornalistas presos durante o governo Médici, quando alguns intelectuais (Antonio Callado, Chico Buarque, Drummond, Glauber Rocha e outros) mantiveram "vivo" o jornal com seus textos.
Diferente da chamada elite intelectual – que via as telenovelas com reservas –, o poeta percebeu a influência que poderia ter na educação política da sociedade. Só aqui a ficção era consumida diariamente no horário nobre e com tanto espaço. No resto do mundo, foram os livros que saciaram a fome por ficção.
A TV aqui chegou antes de o povo se alfabetizar. Sempre prevaleceu uma tradição mais oral que escrita. Prefere-se ouvir o padre ou o pastor falar a interpretar a Bíblia. Opta-se por contar um caso ao pé-de-ouvido a escrever. Em vez de ler, assiste-se às novelas, o que leva o brasileiro a se identificar bastante com alguns personagens.
Quem não recorda o prefeito Odorico Paraguaçu (Paulo Gracindo) e o pistoleiro Zeca Diabo (Lima Duarte), personagens de O Bem-Amado, novela de Dias Gomes exibida pela TV Globo em 1973? O autor, aliás, teve que mexer no roteiro por ingerência de Brasília. Proibiu-se que a palavra “coronel” fosse pronunciada. “Coronel” era a forma como o prefeito era tratado, principalmente por Zeca Diabo.
Vedou-se também o termo "capitão" (como Odorico tratava Zeca Diabo). Alguém achou que "capitão" e "coronel" se referiam a patentes militares, quando, no caso, aludiam a políticos ou grandes fazendeiros e alguns capatazes detentores de poder junto aos currais eleitorais dos tempos do voto de cabresto.
Como viu muita coisa nas últimas seis ou sete décadas, minha mãe deve gostar.