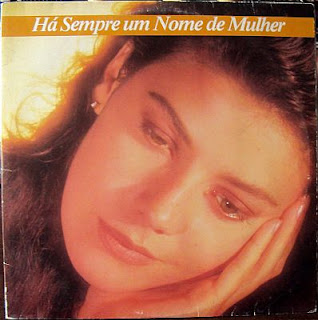Minha secretária sentiu-se aliviada quando lhe pedi que passasse a ligação telefônica de uma mãe desesperada, a dizer que só faria uma denúncia gravíssima se falasse diretamente com o diretor.
– Bom dia, posso ajudá-la?
– Não acredito! É o senhor mesmo?
– Claro. Pode falar, por favor.
– O senhor sabia que meu filho está perdendo o emprego porque é negro?
– Isso é muito sério. Conte mais, por favor.
– Ele é bom filho, estudioso, inteligente, mas trabalha no meio de gente metida a besta... Sofre muito. Sabe que vai ser demitido.
– Qual o nome completo dele? Vou ver o que está acontecendo e falo de novo com a senhora ainda hoje.
– Moço, me ajude! Meu filho não pode perder esse emprego. A gente é pobre, ele é nossa esperança...
Vi que se tratava de funcionário no último mês do chamado estágio probatório de 90 dias – processo que visa aferir se a pessoa aprovada em concurso público possui aptidão e capacidade para o desempenho do cargo no qual ingressou – que antecedia o ingresso em definitivo na empresa.
Morador de Samambaia, fora chamado rigorosamente dentro da ordem classificatória de aprovação no concurso público. Preencheria vaga na unidade instalada no Itamaraty, Esplanada dos Ministérios, em Brasília.
 A cidade-satélite de Samambaia, hoje com mais de 230 mil habitantes, nasceu oficialmente em 1985, com a remoção de áreas ocupadas de forma irregular, como Invasão da Boca da Mata, Asa Branca e outras. Era parte do Núcleo Rural de Taguatinga que, desmembrada, passou a ter administração própria no Distrito Federal.
A cidade-satélite de Samambaia, hoje com mais de 230 mil habitantes, nasceu oficialmente em 1985, com a remoção de áreas ocupadas de forma irregular, como Invasão da Boca da Mata, Asa Branca e outras. Era parte do Núcleo Rural de Taguatinga que, desmembrada, passou a ter administração própria no Distrito Federal. Itamaraty é o nome do palácio que abriga o Ministério das Relações Exteriores, responsável pelo contato diplomático com governos estrangeiros e organizações internacionais, serviços consulares e toda a burocracia relacionada à proteção da imagem do Brasil no exterior.
Itamaraty é o nome do palácio que abriga o Ministério das Relações Exteriores, responsável pelo contato diplomático com governos estrangeiros e organizações internacionais, serviços consulares e toda a burocracia relacionada à proteção da imagem do Brasil no exterior.Pressionado de tudo quanto era jeito – normas e rotinas de serviço desconhecidas, metas de vendas de produtos, código do consumidor, avaliação de desempenho, tarefas escolares na faculdade etc. –, o rapaz acabou desorientado, perdido.
Já não interagia de forma espontânea com clientes – boa parte engravatada, culta, poliglota, natural no recinto – nem com colegas de trabalho. Também demonstrava insegurança ao prestar esclarecimentos, pouca iniciativa e, por isso, havia "dúvida quanto à aptidão para a carreira”, no entender de seu chefe imediato.
À noite, retomei a conversa por telefone com a mãe aflita e disse – sem muita convicção – que para mim o caso não envolvia preconceito. Não consegui enxergar com segurança, naquele dia, se cor da pele, traje humilde e sotaque também estavam de fato pesando na avaliação preliminar que se fazia.
Mas assegurei à mãe que, se o filho dela fosse bom mesmo, teria noutro ambiente mais duas semanas para provar isso. Já havia orientado meu pessoal a flexibilizar a regra – por minha conta e risco – para que o garoto concluísse o estágio probatório em Samambaia, onde nasceu e se criou.
Duas semanas adiante, liguei pro novo chefe dele para saber o desenrolar dos acontecimentos. A resposta me impressionou:
– O moleque já é o melhor funcionário que temos. A clientela gostou dele, é ligeiro, trabalha feliz e ainda ajuda os colegas porque conhece do serviço como nenhum outro.
Nem recordava mais do caso quando, meses depois, já como superintendente do Distrito Federal – havia sido exonerado do cargo de diretor em meio ao turbilhão de mudanças que sacudiu o país e a empresa no começo de 2003 –, participava de um café da manhã com clientes em Samambaia.
Na ocasião, falaram de uma pessoa que queria me conhecer. Fui até o rapaz que conversava com uma senhora na plataforma de atendimento. Ao me ver, levantou-se e estendeu a mão:
– Muito prazer! Eu queria apresentar minha mãe e agradecer o que o senhor fez por mim.
– Se você quer agradecer a alguém, dê um abraço em sua mãe, uma mulher corajosa, determinada, que nos poupou de um vexame, de cometer uma injustiça.
– Mas se o senhor não ouvisse o que ela tinha a dizer...
– Olhe bem: importante é você perceber que na empresa não existe preconceito. Surgem oportunidades todo dia e para quem quer crescer, o céu é o limite.
– Sei disso... – respondeu, afagando os cabelos da mãe orgulhosa de seu rebento.
O tempo passou e a última notícia que tive desse colega foi em 2013, mais de 10 anos depois do episódio. Ocupava cargo de confiança na Ouvidoria Interna, canal de comunicação direta dos funcionários, especializada em receber denúncias sobre conflitos, desvios de conduta ética e descumprimento de normas.
Talvez veja fantasmas onde nunca existiram, mas continuo sem respostas para algumas perguntas que me fiz a vida inteira: por que não vi um presidente negro em mais de 40 anos de carreira na empresa? E vice-presidente negro, por que só houve um em mais de dois séculos de história?
Deve ser por isso que me assombram mais os vivos – com seus preconceitos de cor, gênero, origem, classe social, religião etc. – do que os mortos.