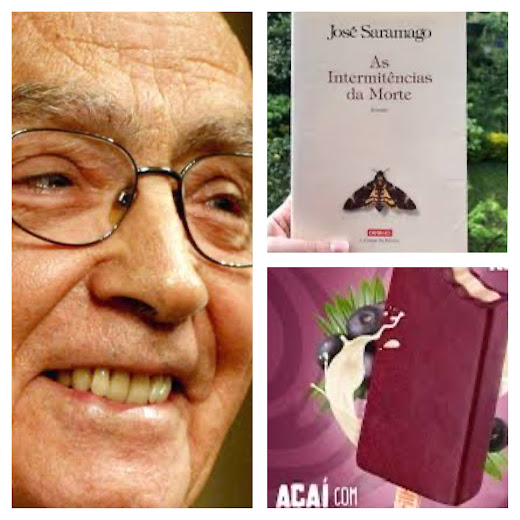Daquela nova geração de talentos, em 1968 apareceu lá em casa um compacto simples — para quem não conhece, pequeno disco de vinil com apenas duas músicas: de uma lado, “Bom tempo”; de outro, “Ela desatinou” — de um cantor e compositor desconhecido para mim. Disseram-me que se tratava de alguém com mais futuro do que todos aqueles cabeludos da jovem guarda: chamava-se Chico Buarque de Holanda.
 Tinha lá minhas dúvidas. No final dos anos 60, começava a escutar na Rádio Espinharas de Patos(PB) canções como “Eu sou terrível”, “Por isso corro demais”, “De que vale tudo isso”, de Roberto Carlos. Mas ouvi o bom conselho que me deram de graça e nunca mais deixei de prestar atenção naquilo que fazia Chico. Cresci admirando as múltiplas facetas do maior cronista-poeta musical de seu tempo, que mesclava questões sociais, românticas e políticas.
Tinha lá minhas dúvidas. No final dos anos 60, começava a escutar na Rádio Espinharas de Patos(PB) canções como “Eu sou terrível”, “Por isso corro demais”, “De que vale tudo isso”, de Roberto Carlos. Mas ouvi o bom conselho que me deram de graça e nunca mais deixei de prestar atenção naquilo que fazia Chico. Cresci admirando as múltiplas facetas do maior cronista-poeta musical de seu tempo, que mesclava questões sociais, românticas e políticas.Pouco mais de meio século depois, embora seja reconhecido em várias partes do mundo pelo conjunto de sua obra como cantor, compositor e escritor, com centenas de canções, cinco livros e tantas outras criações artísticas, Chico vem sendo apedrejado nas redes sociais, nas ruas, nos bares, pela mesma intolerância e ingratidão de que falava em “Geni e o Zepelim”.
Isso me faz lembrar a avalanche de pedras também lançadas sobre Pelé, no início dos anos 70, porque não usava de seu prestígio universal para denunciar torturas que aconteciam numa certa nação do faz-de-conta. Foi ainda apedrejado porque garantiu que seus conterrâneos não estavam preparados para votar. Nesse ponto, aliás, desde então quem é derrotado em eleições quase sempre dá razão a Pelé.
Quem apedrejava Pelé não se dava conta de que agredia um herói na acepção do termo, ou seja, alguém que mudava o rumo da história de uma nação e que será para sempre lembrado por seus feitos na arte em que reinava soberano.
Anos depois, João Saldanha, um dos mais respeitados jornalistas esportivos, ao ser chamado a opinar sobre a decisão do então treinador da seleção, Telê Santana, de cortar o atacante Renato Gaúcho — o jogador, junto com o lateral Leandro, caiu na esbórnia às vésperas da viagem para a Copa México 1986 —, foi pedagógico: “Eu não preciso dele pra casar com a minha filha, mas pra jogar futebol. E esse cara joga pra burro!”.
 Naquilo que faz, Chico é nosso Pelé e, como diria Saldanha, também não preciso dele pra casar com minha filha. Nem tenho o menor interesse em suas preferências religiosas, políticas ou sexuais. Meus netos, sim, precisam ouvir dele estórias como a daquele país do faz-de-conta de casas simples, com cadeiras na calçada, onde na fachada estava escrito que era um lar. Ali morava uma criança que, mesmo sem ter fé, pedia a Deus por sua gente, gente tão humilde que dava vontade de chorar.
Naquilo que faz, Chico é nosso Pelé e, como diria Saldanha, também não preciso dele pra casar com minha filha. Nem tenho o menor interesse em suas preferências religiosas, políticas ou sexuais. Meus netos, sim, precisam ouvir dele estórias como a daquele país do faz-de-conta de casas simples, com cadeiras na calçada, onde na fachada estava escrito que era um lar. Ali morava uma criança que, mesmo sem ter fé, pedia a Deus por sua gente, gente tão humilde que dava vontade de chorar.Com o tempo, essa criança foi vista chegando suada e veloz do batente, trazendo um presente para encabular seu pai. Eram tantas correntes de ouro que faltava pescoço para enfiar. Trouxera até uma bolsa já com tudo dentro: chave, caderneta, terço, patuá, lenço e uma penca de documentos pra finalmente o pai se identificar.
Essa criança cresceu. Homem feito, desiludido com o futuro da nação do faz-de-conta, um dia bebeu e soluçou como se fosse um náufrago, dançou e gargalhou como se ouvisse música. E acabou no céu como se fosse um bêbado a flutuar no ar feito um pássaro. A seu pai restaria a saudade, que doía mais que o revés de um parto ou arrumar o quarto do filho que já morreu.
Aos 75 anos, Chico — como eu ou você — tem o direito de fazer o que bem quiser da vida, inclusive o de vestir a camisa que lhe parecer mais confortável. Sabe mais que ninguém que os dois grupos que hoje dividem a cena política na nação do faz-de-conta acreditam estar sempre certos. Ou se está com eles ou contra eles. Cultivam a intolerância como consequência natural de suas convicções. Não têm adversários, mas inimigos.
 Em tempos de escassez cultural, quando tantas músicas e livros descartáveis são despejadas pela mídia na cabeça das novas gerações, assistimos a um espetáculo dantesco de “olho por olho e dente por dente” que daqui a pouco pode transformar a nação do faz-de-conta num paraíso tropical de cegos e banguelas. Mas a obra de Chico Buarque de Holanda precisa ser preservada. Está acima de todos nós, inclusive dele mesmo. É patrimônio cultural da humanidade.
Em tempos de escassez cultural, quando tantas músicas e livros descartáveis são despejadas pela mídia na cabeça das novas gerações, assistimos a um espetáculo dantesco de “olho por olho e dente por dente” que daqui a pouco pode transformar a nação do faz-de-conta num paraíso tropical de cegos e banguelas. Mas a obra de Chico Buarque de Holanda precisa ser preservada. Está acima de todos nós, inclusive dele mesmo. É patrimônio cultural da humanidade.Toda essa confusão pode acabar sendo a gota d’água. A qualquer momento, Chico pode pedir para deixarem em paz seu coração — hoje, um pote até aqui de mágoa! —, apagar a luz, bater o portão sem fazer alarde e desaparecer. E aquela esperança de tudo se ajeitar, pode esquecer.