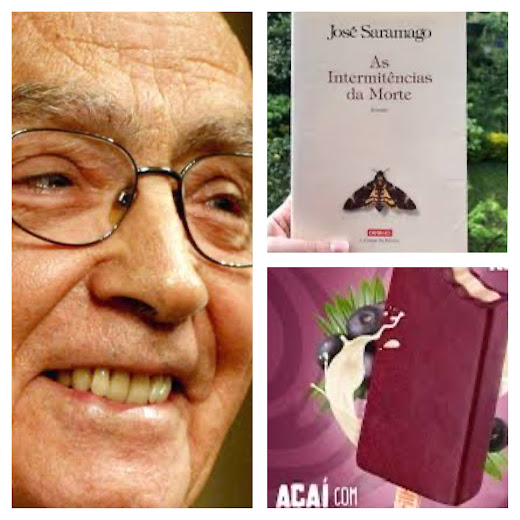O velho José de Brito Jurema, quase um clone matuto e carrancudo do genial dramaturgo, palestrante e romancista paraibano Ariano Suassuna (1927 – 2014), desmontou de sua égua em frente à única agência bancária da cidade de Itabaiana-PB, dirigiu-se ao balcão de atendimento, chamou no canto um baixinho franzino que orientava alguns clientes e foi direto ao ponto:
— Vosmecê pode me dizer qual é sua intenção com minha filha?
— Calma, seu José, vamos conversar... — ponderou Agostinho, que, quatro anos mais tarde, se tornaria meu pai.
— Me disseram que vosmecê tá se enxerindo pro lado da menina. Ela só tem 16 anos, viu?
— Seu José, eu já iria mesmo procurar o senhor lá no sítio Jacaré para pedir a mão de Eudócia. Nós vamos nos casar assim que correrem os papéis no cartório.
Meu avô andava bravo com as conversas de comadres que ouvia no sítio "Jacaré", a oito léguas da cidade, dando conta de que sua filha, balconista numa loja de tecidos, namorava um bancário forasteiro (sete anos mais velho do que ela) que chegara havia pouco tempo para trabalhar com mais três amigos solteiros.
Naquele dia, ordenhou suas duas vacas antes do sol nascer, bebeu uma caneca de leite quente direto das tetas e partiu disposto a tirar a limpo inclusive o boato de que o rapaz que arrodeava sua filha era casado.
Em 1954, pouco antes de mudar para a Paraíba, Agostinho se envolvera com uma moça em Caxias-MA, cujo cunhado, delegado de polícia, ao tomar conhecimento de que ele fora aprovado em concurso público para ingresso no Banco do Brasil, praticamente o obrigou a casar. Nem que o matrimônio se desse apenas diante do padre, para que sua cunhada não ficasse “na boca do povo”.
Eu e meus irmãos mais velhos (Haydeé e Agostinho, filho) só soubemos desse episódio dali a 18 anos, em Maceió-AL, após a morte de nosso pai. Eudócia, nossa mãe, casada “de papel passado em cartório e tudo”, nos contou que poucas semanas depois de seu casamento apareceu em Itabaiana-PB uma mulher morena, bonita, dizendo a todo o mundo que Agostinho “já era dela”.
Uma tia nossa, furiosa como uma gata parida quando tem cachorro por perto, de pavio curto feito seu pai Zé de Brito, procurou a moça na pensão em que se hospedara cuspindo maribondos:
— Desapareça daqui, sua cabrita, senão eu vou lhe dar uma surra com uma correia de máquina de costura que você nunca mais vai esquecer!
Mais tarde a moça foi vista embarcando na estação ferroviária. Disseram que partiu para os lados de Pernambuco, primeira escala antes de seguir no rumo da Bahia. E dela não mais se ouviu falar na Paraíba.
Embora meu avô fosse um pequeno ruralista inculto e tosco, de quem nunca se viu um gesto de carinho sequer para com os netos — exceto com meu irmão Agostinho Filho, no dizer dele o calmo “Neninha” —, é possível que eu tenha sido o único que lhe fez perder a paciência e sacar o cinturão de couro em duas oportunidades.
Na primeira, meus pais haviam viajado até a capital paraibana, João Pessoa, deixando os filhos sob os cuidados dos avós. Curioso, enquanto meus tios escutavam pelo rádio a transmissão de Brasil e Bulgária, direto da Inglaterra, na abertura da Copa do Mundo 1966, achei de testar qual seria a reação de um peru caso inalasse a fumaça de um retalho de pano em chamas preso a uma vareta que amarrei em seu pescoço.
Ao ver o "teste", o velho Zé de Brito correu atrás de mim em torno da casa-sede de taipa do sítio "Jacaré" na inútil tentativa de me dar uma surra. Quando sentou ofegante no alpendre, eu não parava de rir de sua falta de ar, certamente reflexo do cigarro de palha que vivia no canto da boca.
Na segunda vez, meu avô já estava sob tratamento médico em Patos-PB procurando resolver sérios problemas cárdio-pulmonares. No seu jeito naturalmente descortês, pediu água num dialeto estranho para quem, como eu, já lia e escrevia com alguma desenvoltura:
— Ô minino, vigie um caneco d’água mode matar minha sede!
De novo, caí na gargalhada e ele por pouco não me ensinou a respeitar os mais velhos da forma que aprendeu a educar seus filhos. Mas não aguentou a falta de ar, tossiu e voltou resmungando para a sua rede. Morreria alguns meses depois, já de volta ao “Jacaré”, torrão natal onde sempre viveu.
A vida seguiu e, com o passar do tempo, percebi que Dona Eudócia esquecera por completo que havia compartilhado com alguns filhos a história do casório no religioso por parte de meu pai.
Eu já morava na Bahia, no começo dos anos 90, quando, em férias, ao visitá-la em Alagoas, provoquei:
— A senhora não vai acreditar no que me aconteceu! Outro dia fui procurado em Salvador, no trabalho, por uma mulher bonita, bronzeada, cabelos grisalhos, que jurava ser minha mãe. Tomei um susto danado! Não é que me achei parecido com ela...
— É mentira daquela sem-vergonha! Você é meu filho e nasceu um ano depois de Haydeé — atalhou Dona Eudócia.
— Calma, mamãe, é gaiatice minha! Esqueceu que nos contou que papai era casado no religioso quando se mudou para a Paraíba?
Ela ainda quis pegar no cabo da vassoura para me botar pra correr da sala de jantar, mas, digamos assim, percebeu que tinha agora diante de si um pai de família sério, trabalhador, que já contribuía com sua parte para o nosso belo quadro social.
Do moleque de antigamente restara apenas o que minha avó, Dona Carmelita, “Mãe de Jacaré”, questionava nos meus primeiros anos de vida:
— Repare mesmo, Doça, esse menino é cheio de marmota! A quem ele puxou?
— Não sei, só sei que ele é assim... — diria Chicó, personagem de O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, se visse a cena.
— Não sei, só sei que ele é assim... — diria Chicó, personagem de O Auto da Compadecida, de Ariano Suassuna, se visse a cena.